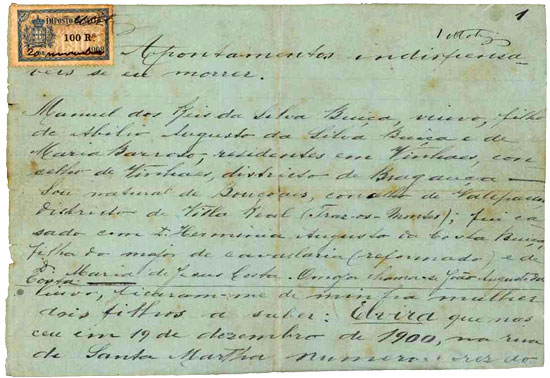TERREIRO DO PAÇO, CINCO E MEIA DA TARDE
No dia 1 de
Fevereiro de 1908, eram 11 e meia da manhã, o rei, a raínha e o príncipe D. Luis
Filipe metem-se no combóio em Vila Viçosa.
Em Lisboa, o
infante D. Manuel tivera estudos da parte da manhã; almoçara com o Visconde de
Asseca e com o perceptor Kerausch e depois de almoço sentara-se ao piano a
tocar, talvez o Tristão, que nesse
dia pela primeira vez era dado a ouvir em S. Carlos.
Na Casa Branca
(Alentejo),o combóio real descarrila. A hora prevista da chegada ao Barreiro, 4
e um quarto, vai ser protelada devido ao incidente. Chegará às 5 e 20 – outros
dirão 5 e 30 e outros ainda 5 horas prefixas. Seja como for, cerca de 80
pessoas aguardam na estação fluvial.
Há menos gente a
aguardar o rei do que era costume, visto D. Carlos se ter incompatibilizado com
os dois grandes partidos monárquicos. Nesse tempo, a Estação de Sul e Sueste
era em frente ao torreão oposto àquele defronte do qual ela é hoje. Ficava no
enfiamento das arcadas do lado poente da praça.
Há um grande
silêncio no Terreiro do Paço. Teixeira de Sousa, da janela do seu gabinete nas
Alfândegas, fuma o seu charuto e sente esse silêncio como sinistro.
Raúl Brandão diz
dessa tarde que está azul, morna,
diáfana, sem uma núvem. Jorge de Abreu achou a tarde excessivamente carregada. António Cabral diz que a luz
do sol jorrava, vivíssima, sobre Lisboa e que o Tejo faiscava.
Fabrício de Lemos, um conspirador, anota que era a luz indecisa e triste de um dia invernoso e
húmido. Rocha Martins conta que dealbara
a manhã um pouco nublada,mas suavizara-se e enchera-se de alegre sol.
Vá lá a gente da
crédito às crónicas de época e aos testemunhos oculares…
A raínha vem à
frente, de escuro vestida, casaco de marta e chapéu enfeitado com flores. D.
Carlos a seguir, farda de generalíssimo, azul, com capote e debruns vermelhos,
boné e luvas.
O príncipe: de
sobretudo escuro, gravata de seda vermelha às riscas, chapéu alto e luvas
castanhas. Uma menina sua afilhada oferece à raínha um ramo de flores. Há uma
pequena recepção.
E chegam as
carruagens. Suas Majestades e Sua Alteza Real aprestam-se para nelas tomarem
lugar. As carruagens chegam fechadas, segundo alguns, e é D. Carlos que manda
abri-las. João Franco desaconselha-o. Segundo alguns.
O coronel Alfredo
de Albuquerque, encarregado das viaturas e equipagens reais, dirá que tinha
todos os automóveis em Vila Viçosa e que andava aflitíssimo porque se
aproximava o dia do regresso real a Lisboa e não queria mandar para o Terreiro
do Paço os landaux, queria ter no
Terreiro do Paço os automóveis. Que era preciso mandar vir de Vila Viçosa.
E vieram. Na
véspera da chegada da família real ao Terreiro do Paço já os automóveis estavam
em Lisboa prontos a servir. Mas o coronel recebe um telefonema a dizer para não
mandar os automóveis para o Terreiro do Paço, para mandar as carruagens. Um
telefonema de quem? Do próprio rei D. Carlos.
D. Carlos era
corajoso, destemido, detestava as protecções e seguranças policiais. Tinha
havido a revolta abortada de pouquíssimos dias antes e o rei, cuidadoso com a
imagem, qual político pós-moderno, não se queria mostrar intimidado. Terá sido
por isso que recusou os automóveis que melhor o protegeriam de algum percalço.
Mas as capotas
das carruagens estão descidas quando surgem no Terreiro do Paço para levar a
real família ao Palácio das Nacessidades. Quem as manda levantar? O rei? João
Franco? Nem um nem outro? Alguém foi. O rei e João Franco de comum acordo: uma
hipótese. E sempre nesse sentido de encenação, de preservar a imagem do poder,
de mostrar que a revolta de 28 de Janeiro não chegara para intimidar o rei, e
para evidenciar uma tranquilidade e uma normalidade públicas. Que de facto eram
falsas.
Os reis e os
príncipes sobem para a carruagem. D. Carlos com D. Amélia à sua direita; em
frente, em sentido contrário ao do trajecto, os dois irmãos, D.Luis Filipe e
D. Manuel. E a carruagem, tirada a quatro cavalos, começa a andar, vagarosa.
Segue-a o resto
do cortejo. Os condes de Figueiró e o marquês do Alvito, a seguir. Na terceira,
o visconde de Asseca, o vice-almirante Brito Capelo e o major Waddington. O coupé de João Franco é o quarto da
ordem. Pouca gente no Terreiro do Paço, meia dúzia de curiosos.
D. Amélia vai a
contar ao filho mais novo as peripécias do descarrilamento do real combóio
quando se ouve um tiro. D. Carlos sorri, a pensar que era mangação. D. Manuel,
que não ouviu esse abafado tiro primeiro, caracterizaria depois a situação em
termos de caça, uma batida, o primeiro tiro que se dá para começo de uma
caçada.
D. Manuel vê um
homem de barba preta abrir o gabão e tirar do corpo uma carabina, e diz para si
mesmo “que má brincadeira”. O homem da barba preta sai do passeio coloca-se
seis metros atrás da carruagem, ajoelha, põe à cara a Winchester semi-automática e faz fogo. D. Manuel percebe então que
não se trata de brincadeira.
Começa a
fuzilaria. É tudo muito rápido e embrulhado.
O Terreiro do
Paço está quase deserto, ou assim parece, na certeza de que polícia não se vê. Se durante o ministério dele, na ditadura,
cometeu erros, para mim é o menos – escreverá D. Manuel seis meses depois
dos factos. Mas quando se dizia que isto
ia mal, que havia anarquistas no país, ele não acreditava.
Pois, João Franco
não tomara providências. Era o seu último grande erro. Se erro foi. Porque
parece tão inverosímil num governante com responsabilidades sobre as polícias o
ter menosprezado os perigos do momento que uma pessoa chega a duvidar de tanta
incompetência.
De baixo das
arcadas sai um outro homem, o Costa, que faz a abordagem das regras, sobe ao
estribo esquerdo da carruagem e e dispara à queima-roupa na nuca do rei. O
Buiça dispara uma segunda vez. O Costa, ao disparar a pistola, parece querer
certificar-se da morte do rei e de mais ninguém. Escreve Raul Brandão: a raínha, louca de dor, sacudia o Alfredo
Costa com um ramo de flores, “então não acodem? Não há quem me acuda?”
Meu pobre pai, uma das balas entrou pelas costas e outra pela
nuca, que o matou instantaneamente. Infames! Para completarem a sua atroz
malvadez e a sua medonha covardia fizeram fogo pelas costas.
O rei foi
atingido na coluna e teve morte imediata. D. Amélia, de pé, na carruagem, grita
e agita o ramo de flores que levava. Chega a bater com ele na cara do Costa –
ou de um outro dos cinco regicidas que andavam pelo Terreiro do Paço, talvez o
José Nunes.
Na confusão,
junto com os dois assassinos, é morto um rapazito, um caixeirito que tinha ido
à estação dos correios da Rua do Arsenal deitar uma carta. Mais tarde haveria
quem dissesse era o mesmo que andara no dia anterior a dizer pela baixa que o
rei ia ser morto.
A carruagem vira
para a Rua do Arsenal. O príncipe Luis Filipe levanta-se, ergue a sua pistola e
descarrega-a sobre o Costa, e nesse instante mesmo cai varado com uma bala na
cara, enquanto o Costa cai da carruagem e é atacado à espadeirada e a tiro por
guardas que então aparecem. D. Manuel é atingido no braço direito.
Para onde
conduzir a carruagem? Para o Hospital da Estrela! Não! Já aqui para o
Arsenal!
Já no Arsenal, D.
Amélia vai direita a João Franco. Minha
adorada mãe disse-lhe, ou antes, gritou-lhe, com uma voz que fazia medo:
“mataram el-rei! Mataram o meu filho!” Minha pobre mãe parecia doida. Eu também
não sei como não endoideci.
A condessa de
Figueiró gritava: não havia um polícia!
Não havia soldados! A culpa é deles, do
governo!
Um certo capitão
Figueira tinha ido ao Ministério da Fazenda e ao sair ouve tiros. E corre.
Apanha o Buiça a fugir. O capitão desembainha a espada e trespassa o corpo do
Buiça com ela. Ao retirar a espada do corpo do Buiça diz para um polícia: “Tome
conta deste homem.”
O Buiça verga-se,
cai de joelhos, engatilha a arma e atira contra as pernas do tal capitão
Figueira. Uns quantos homens filam o Buiça, que se debate. Levam-no para a Rua
do Arsenal e à esquina ouve-se um tiro. Alguém acabara por matar o Buiça a
tiro.
Tudo se passou em
segundos.
O rei está morto!
O rei está morto!
Tiros.
Espadeiradas a torto e a direito. Gente a fugir: os inocentes e os culpados
desconhecidos. Mataram o rei! Mataram o rei! Mas já estão mortos os que o
mataram. E o príncipe? O príncipe? Os cocheiros chicotearam asperamente os
cavalos. O cortejo entra no Arsenal. Os sinos continuam algures a tocar.
Por toda a baixa
lisboeta corre a notícia. Mataram o rei, mataram o rei. Mil versões da tragédia
começavam a circular. Nos cafés era conforme as tendências de cada um. Ora o
rei era um pulha que até escrevia cartas anónimas à própria mulher, ora era um
soberano exemplar, ora era ele o animador da ditadura, ora a memória do rei
haveria de vir a ser reabilitada.
Numa versão de
Raúl Brandão, no Arsenal, consumada a desgraça, perante os corpos, pergunta a
raínha a João Franco: foram portugueses? Resposta:
foram. Torna a raínha: aí tem o que o senhor fez dos portugueses. Ao
que acorreu a raínha-mãe, D. Maria Pia: diziam que o senhor era o coveiro da
monarquia, mas o senhor foi pior, foi o assassino do meu filho e do meu neto.
Mataram o rei!
Mataram o rei!
Os executores
iriam por João Franco, não apanhariam João Franco a jeito e, já que estavam
ali, e já que o rei ia a passar, aproveitaram, inflectiram de improviso as suas
intenções, e mataram o rei, deixando vivo e intacto o que se pode supor ser o
objecto primeiro do seu ódio. Houve quem se inclinasse para este cenário.
Aquilino Ribeiro parece que foi um dos que o defenderam, ou pelo menos o
sugeriram.
Claro que se
torna difícil imaginar que uma operação desta magnitude possa, numa questão de
minutos, em cima do joelho, descambar para uma acção diferente do plano
inicial. Raúl Brandão difere de Aquilino, e baseia-se em confidências que gente
de destaque lhe teria feito e garante que o plano visava exclusivamente o rei.
O príncipe Luis
Filipe, escorrendo abundante sangue da cara, ainda dava sinais de vida ao
chegar ao Arsenal, ao ser depositado numa maca. O rosto do rei arroxeara, os
lábios enegreciam. Deitam-no num colchão velho e esburacado que há por ali.
Desapertam-lhe o dolman e o sangue jorra. Mas há sempre quem tenha esperanças.
Um médico do paço, chega-se aos corpos e pede fósforos.
Acendendo um
fósforo, o médico aproxima levemente a chama dos dedos do rei. Morto. Observa a
ferida na cara do príncipe. Morto.
Esvaziam-se os
bolsos do rei. Um relógio de aço com corrente de ouro; um lenço; um charuto; um
saco de moedas; um revólver tirado do estojo. O rei pensara mesmo num ataque. O
revólver estava pronto a funcionar. O chão em volta dos corpos está inundado de
sangue. Chega um padre. Acendem-se tochas. Vê-se um Cristo pendurado numa
parede. Tocou um clarim. Os corpos são cobertos com as bandeiras azuis e
brancas.
Os palacianos
presentes prevêem uma revolução. Fala-se de assassinos à solta na noite de
Lisboa.
Inventaria-se o landau real e descobrem-se marcas de 17
balas.
João Franco
chegou ao Arsenal. Deu de caras como oposicionista Júlio de Vilhena. Vilhena
ofereceu os seus bons ofícios, uma trégua política. Pergunta de que extracto
social eram os assassinos. Rapazes do
comércio, respondeu João Franco.
Os rapazes do comércio estavam estendidos,
mutilados, no átrio da Câmara Municipal, eles e o pobre rapazito que ia deitar
uma carta no correio.
A noite é de um
silêncio aterrador. Tropas patrulham as ruas.
No quartel de
Artilharia 1 há soldados em pé de sublevação, à espera de um sinal. Os notáveis
revolucionários presos na sequência do 28 de Janeiro mal sabiam do acontecido,
mas também esperavam qualquer coisa. Noite fora, há tiroteios. As sentinelas
dos quarteis percebem vultos rondando e atiram a matar. O velho político José
Luciano de Castro confidencia a amigos: receio
bem que os regimentos venham para a rua e a revolução rebente esta noite.
A revolução não
rebentaria nessa noite. Mas não tardaria muito, mesmo nada, a comemoração dos
regicidas. Os retratos deles apareciam nas montras das lojas, ainda os
cadáveres reais estavam quentes.
Na noite mesma do
atentado, João Franco apresentava-se no paço com o texto da proclamação real
para assinar. Mostra-a primeiro a D. Amélia. Nessa altura D.Maria Pia
pergunta-lhe: acha que a morte do rei
será muito sentida? Não tenho notícia da resposta dele, mas não pode ter
andado longe de… ah, sim, majestade, muito, muito sentida.
Rocha Martins
conta que já chegavam os embaixadores e príncipes estrangeiros para as régias
exéquias, mas Lisboa, lambida na
suavidade do seu sol de inverno só tinha olhos para as vitrinas onde se
mostravam os bustos dos assassinos, craionados ou em fotografia.
Os nomes do Buíça
e do Costa corriam heroicamente de boca em boca. Se as mulheres choravam os
reais assassinados, os homens compungiam-se pelos assassinos. Abriam-se subscrições
para acudir aos filhos do Buiça.
As
exposições nas montras podiam manifestar
duplas intenções. Se havia comerciantes que as exibiam por sincera fé
republicana, outros faziam-no como chamariz publicitário, tanta era a gente que
se aglomerava diante dos retratos. E eram aos milhares os que desfilavam
perante os cadáveres. E por todo o lado se
improvisavam comícios.
Nas ruas passava
gente de luto carregado sob olhares irónicos ou indignados. Alguns atrevidos
mais sarcásticos indagavam dos enlutados se lhes tinha morrido alguma pessoa de
família. Corriam os boatos: haveria grossa balbúrdia no dia dos funerais
régios; estalaria a revolução. Houve várias prisões no seguimento do atentado.
Entre os presos figurava até um músico de S. Carlos.
Os funerais
régios foram no dia 8 de Fevereiro, um sábado. A pompa foi muita.
Dois dias depois,
a 11, foi o funeral dos regicidas, depois de secretamente feitas as autópsias.
Temia-se o
tumulto. Por isso se decidiu a cerimónia para a madrugada, três horas. Rocha Martins
ornamenta: a lua branqueara as ruas
ladeadas de ciprestes e alvejavam os túmulos; ao longe, uma fita prateada
destacava-se. Era o Tejo, na serenidade da madrugada fria.
Durante muito
tempo,à porta do cemitério, vendiam-se postais. Olha o retrato do Buiça e do Costa! Olha o retrato dos mártires! E
nas tabernas os cantos ao fado celebraram-nos por muito tempo.
A este dia seguiram-se
dois anos que foram uma espécie de tempo de ninguém.