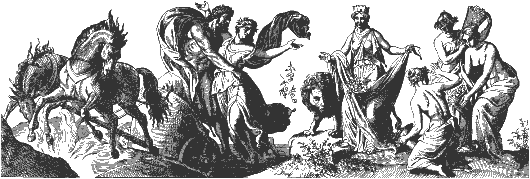ZEUS
A máxima divindade grega não passa de uma
personagem a esbracejar no concreto de uma narrativa. Não goza de
omnipotências nem de omnisciências.
O mais poderoso dos deuses gregos, Zeus, não
decidiu sozinho o desfecho da guerra de Tróia. Teve que entabular conversações,
sujeitar-se a compromissos.
Ainda assim: Zeus é o princípio de uma
soberania edificada sobre a força da justiça que garante a ordem do mundo e o
equilíbrio da comunidade.
O quero-posso-e-mando dele não é todavia congénito,
foi conquistado em heroísmos de diversa ordem. Mas é usuário de variegados
poderes: o Zeus dos juramentos; o Zeus das fronteiras; o Zeus que protege os
suplicantes e os hóspedes; o Zeus da chuva e o Zeus do raio.
(Zeus: Deus; tão parecidos no nome, nos
poderes e prerrogativas e na imponderabilidade da própria existência…)
Hesíodo estabeleceu as genealogias: Zeus foi
a força que pôs um fim à dinastia divina precedente, de proveniências noturnas
e de caóticas origens, cuja cabeça era Cronos, o sacana que devorava os
próprios filhos.
Mas Zeus escapa. E graças aos truques de
Reia, a mãe. Zeus escapa e destrona Cronos. Zeus destrona Cronos, sobe ao trono
e torna-se rei. E inaugura uma dinastia dita solene e olímpica.
Para chegar onde chegou, Zeus sujeitou-se a
guerras contra os que foram chamados de divindades ctónicas, os titãs,
arruaceiros sanguinários primitivos, vassalos do caos instaurado por Cronos.
Zeus triunfa e o céu separa-se da terra; e a
luz separa-se da treva; e as gerações tomam um curso harmonioso.
Zeus desposa Hera. E Hera fica com a
incumbência de ser garante dos regulares matrimónios, esses que promovem das
mais legítimas descendências no seio das famílias – um olhar para a mitologia
nórdico-wagneriana, com Wotan (Zeus) casado com Fricka (Hera), a litigarem
sobre a união carnal de dois irmãos, Siegllinde e Siegmund, que gera o herói
Siegfried, contra o furioso parecer de Fricka (Hera).
A Hera ficará a posteridade a dever nada
menos do que a sociedade humana e a civilização, impeditivas de uma recaída no
estado natural de barbárie desregrada e caótica.
Filha predileta de Zeus é Atena – com novo
olhar sobre as retumbâncias nórdico-wagnerianas, na identidade da filha
preferida de Wotan-Zeus, Brunhild.
Atena foi gerada por Zeus diretamente, sem
necessidade de intervenção feminina. Na jurisdição própria do seu sexo, Atena
irá representar um princípio patriarcal, quer dizer, administrar um acervo de
valores masculinos possível de ser extensivo às mulheres.
Atena gere a atividade dos artesãos tanto
quanto o trabalho feminino da tecelagem. Enverga uma armadura de soldado
hoplita e assim protege de igual modo as forças armadas. É ela a divindade
preparada para a tutela sobre a polis ateniense.
E temos o belo Apolo, outro favorito do
grande pai Zeus. Divindade do sol. Divindade que começou por ser da guerra mas
que se transferiu para a luz, para a purificação e para a cura.
Apolo é o deus da sapiência. Apolo conhece o
futuro. Em Delfos, Apolo preside aos oráculos. Apolo é todo ele música e
poesia; ele é a harmonia e a beleza. Apolo assegura a ordem estética do mundo
de Zeus e o prestígio dele pode suplantar o do próprio pai.
E chegamos a Dioniso. Que se afirma com potencialidades
opostas às do irmão Apolo. Embriaguez, delírio, loucura, reminiscência dos mais
obscuros territórios da natureza humana anterior à vida civilizada – seja por
isso, os próprios gregos não o tinham como sendo retintamente um dos deles e
mantinham-no debaixo de olho ao atribuírem-lhe origens orientais.
O culto de Dioniso marginaliza-se
relativamente à ordem civilizacional e olímpica da polis e remete-se à
montanha, ao bosque, ao que se diz para melhor atrair as mulheres e os
bárbaros. Mas o rapaz sempre protege a poesia trágica.
É preciso ver que Dioniso é a figuração do
Outro em relação à cultura de Apolo – dionisíaco e apolíneo, já todos ouvimos
esta antítese cultural (Nietzsche).
Dioniso pode representar o outro lado do
sagrado helénico, o lado instável e perturbador. Embora digam que Dioniso
chegou a ser venerado no santuário de Delfos ao lado do seu impecável irmão
Apolo.
Dioniso era chamado na polis para tudo o que
cheirasse a festança, a copos, a máscaras, a teatradas. Dioniso era a alternativa
humana e civilizacional. E ainda é.
No panteão grego temos as grandes deusas.
Artémis, gémea de Apolo, virgem, caçadora de arco e flecha, presidente das
cerimónias das raparigas, tutela dos ritos de passagem da condição de virgem à
de mulher casada, protetora dos partos.
Afrodite é de outro temperamento. Afrodite é
a deusa do sexo, do desejo físico – é mãe de Eros. Não era muito benquista no
espaço familiar pois toda ela era desejo sexual incontrolável, primordial,
animal.
A outra, Deméter, é associável a Dioniso, por
causa da terra, das vegetações, da fertilidade agrícola, dos cereais. Teve uma
filha Perséfone, levada pelo malvado do Hades para as entranhas da terra, para
o reino da morte.
Mas regressou, por intercessão da mãe, num belo dia de
primavera.
Nos homens ainda temos o simpático Hermes, o
deus dos correios e da comunicação, o mensageiro, o viandante, senhor dos
espaços abertos e dos caminhos, condutor das almas ao Além.
Por oposição ao
fuliginoso Hefesto, o das oficinas, o dos espaços fechados, o ferreiro, o
fundidor, o deus das tecnologias de transformação.
Hefesto casou com Afrodite para unir a
capacidade sexual e geradora à produtividade tecnológica. O pior é que Afrodite
nunca lhe ligou meia e preferiu sempre encontrar-se com o temível Ares, o
guerreiro, a divindade encontrável nos campos de batalha, gestor da coragem dos
homéricos combatentes, impulsivo, furibundo, homicida.
E depois vem a quantidade dos deuses menores
que não interessam para agora, Hades, Héstia, o dito Eros, deuses aliás muito
antigos.
Platão: os
deuses, compadecidos do pobre género humano que nasceu para sofrer, concederam
uma trégua e fixaram-na na sucessão das festas da cidade devidas à divindade, e
para companheiros dessas festas ofereceram as Musas, Apolo e Dioniso.
De facto, na Atenas do século V, em cada ano
cem dias eram dedicados às diversas festas e aos ritos sacrificiais. Não foi
então pequena a trégua que os deuses gregos concederam aos homens.