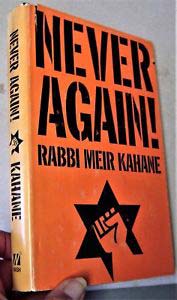NOS
100 ANOS DE BERNSTEIN
– uma memória de vida
“E como é que eu podia
saber que o meu filho viria a ser o famoso Leonard Bernstein?”, perguntou certo
dia o pai, o Sr. Samuel Bernstein.
Em
1985, esse já então muito famoso Leonard Bernstein quer ver representadas duas
óperas suas numa casa do mais excelso prestígio musical, a Ópera de Viena. Quer
acrescentar credibilidade artística aos trabalhos que fez para o teatro lírico,
para não passar à posteridade musical como autor de West Side Story e pouco mais.
Essas
duas óperas, cujos nomes, ainda assim, não venceram o esquecimento, chamavam-se
A Quiet Place e Trouble in Tahiti. E os homens da Ópera de Viena dizem que sim
senhor, que lhe montam as duas óperas, mas na condição de ele reger na
temporada seguinte, em concerto, a Filarmónica nos 3ºs actos de Valquíria e Siegfried.
O
já então muito famoso Leonard Bernstein, perante tais condições, sentiu-se a
cumprir uma espécie de penitência. Judeu, obrigado a interpretar o furioso
anti-semita Wagner, e no berço cultural de Hitler: Viena - essa cidade,
note-se, onde antes da 2ª Guerra viviam 200.000 judeus, e onde, em 1945, só
moravam 2.000. E o famoso Leonard Bernstein sentiu-se confuso.
Narcísico
como era, à quinta casa, para lidar com esse íntimo desconforto o que achou por
melhor fazer foi chamar as câmaras da televisão. “O que é que um bom rapaz
judeu está aqui a fazer, obrigado a interpretar música racista?”
(Chamar
narcísico e egocêntrico a um artista, chega a ser grosseira redundância, e
porque ninguém pode fazer alguma coisa de grande em arte se não pensar em si
próprio antes de mais nada.)
E o narcísico e famoso Leonard Bernstein vai-se pôr à porta
da casa onde fora o consultório de Freud, Bergasse, 19. E desfia para as
câmaras os defeitos pessoais e as qualidades intelectuais e artísticas de
Wagner. Declara que odeia Wagner, mas que o odeia de joelhos. E vira-se para a
frontaria da casa: “Dr. Freud, poderá o doutor ajudar-me neste dilema?” E
remata, desconsolado: “não, eu não sou um bom rapaz judeu.”
E dirigiu de facto o que lhe pediram. E diz que nesses 3ºs
actos de Valquíria e Siegfried descobriu o centro conflitual
da Tetralogia wagneriana: o pai.
“E como é que eu podia saber que o meu filho viria a ser o famoso
Leonard Bernstein?”, continua a perguntar o Sr. Samuel Bernstein, que sempre
tinha visto com péssimos olhos aquela queda do filho para a música. E conversava
com a mulher: “continuo sem perceber porque é que o Lenny quer ser músico
quando podia ganhar 100 dólares por semana, mais cama, mesa e roupa lavada, a
trabalhar comigo no negócio dos produtos para cabeleireiro”.
E tudo na vida aconteceria como aconteceu a Bernstein porque
calhou uma tia dele, envolvida num processo de divórcio, deixar esquecido lá em
casa dos Bernstein um velho piano vertical. Foi o dia em que tudo mudou na vida
do pequeno Lenny. Que passava dias agarrado ao piano. Que foi rápido a aprender
a ler música. E que, como natural consequência, correu a matricular-se no
Conservatório de Boston. Aí é que o Sr. Samuel Bernstein dá por paus e por
pedras. “Que é lá isso, o meu filho está a levar essa coisa da música a sério?”
E pronto. Começaram as guerras familiares. A mãe apaixonadamente a favor da
música; o pai ferozmente contra. “E como é que eu podia saber que o meu filho
viria a ser o famoso Leonard Bernstein?”
Para
o Sr. Samuel Bernstein, pobre emigrante judeu ucraniano, o músico judeu era um
pária da sociedade, a tocar em bar
mitvhas e casamentos, quando não pelas esquinas. E porque, antes de ter
sucesso na vida empresarial, o Sr. Samuel Bernstein aguentara três semanas no
porão infecto de um navio de emigrantes, alombara com fardos no mercado do
peixe, fora moço de limpezas numa barbearia… e não tinha passado por tudo isso
para ver um filho seu a tocar piano à sombra de uma palmeira num qualquer bar
de hotel de terceira classe. “Se tu fosses um Kussevitzki, um Toscanini, um
Rachmaninov, ainda era como o outro. Mas quantos conseguem chegar aí?”
“Digam-me
lá, como é que eu podia saber que o meu filho viria a ser o famoso Leonard
Bernstein?” O meu filho, um bom rapaz judeu…
Em
1985, o bom rapaz judeu, que nos tempos da guerra jurara a pés juntos jamais
tocar ou dirigir na Áustria e na Alemanha, ali estava, em Viena, pronto para
dirigir. E ainda por cima Wagner. Recusou-se a entrar na Casa Branca de Reagan,
mas sentia-se felicíssimo a trabalhar na Áustria do ex-SS Kurt Waldheim. Porque
se considerava o judeu que os austríacos estariam dispostos a aceitar como
excepção à regra.
Um
bom rapaz judeu que há muito percebera em si a deletéria facilidade em se
apaixonar pelos dois lados de um conflito. Um bom rapaz judeu com uma
irreprimível necessidade de se sentir amado.
Em
cada um de nós – como ele viria a dizer de Mahler – pode haver dois indivíduos
aprisionados num mesmo e único corpo. Dizia de Mahler o que se podia aplicar a
ele mesmo com propriedade. Intérprete ou criador - ou as duas coisas.
Heterossexual ou homossexual - ou as duas tendências ao mesmo tempo e no mesmo
impulso libidinal. Maestro ou compositor – ou os dois. Esquerdista ou figura de
destaque do establishment americano -
ou as duas condições. Bom rapaz ou insuportável peste egocêntrica em alto grau
- ou os dois em um. Humilde ou petulante - ou ambos, conforme a circunstância.
Cada coisa e o seu quase contrário ao mesmo tempo na mesma pessoa.
E
não foi por requinte cultural que Bernstein naquela ocasião em Viena invocou
Freud. Toda a vida fora um bom cliente dos psicanalistas. A ambiguidade e a
contradição consumiram-lhe a vida. Desde muito novo que se sabia homossexual,
mas também se sentia atraído por raparigas. Como sair da encruzilhada? Quem sou
sexualmente eu, afinal?
(Um
parêntesis. Pode parecer irrelevante, e até supérfluo, ou criticável, nos dias
de hoje, o pormenor da homossexualidade. Não era nada assim na América puritana
dos anos 30 e 40, em que o tema era matéria confidencial e não assumida
publicamente.)
Numa
folga do trabalho na Filarmónica de Nova York aceitou uma encomenda da catedral
inglesa de Chichester. E saíram os Chichester
Psalms. Uma subtil provocação. Em nome, e pago, por uma catedral cristã,
dá-lhe para incluir o texto em hebraico – o bom rapaz judeu em acção. Um traço
da juventude, a insubmissão às conveniências, ou mesmo a insubordinação.
“Gosto de ver os sorrisos dos músicos da
orquestra. É preciso que o maestro saiba criar na orquestra uma vontade louca
de tocar a Quinta de Beethoven, nem que a tivesse tocado dez vezes na semana
anterior com outro maestro”. Era esse o segredo do intérprete Bernstein. E se
um dia não funcionava, a culpa era dele. Era porque não estava em forma. E
porque o fascínio de dirigir orquestras estava no contínuo pôr à prova as
próprias capacidades.
Já
na escola elementar, ainda que magricela, adoentado e com medo dos grupos de
negros e de anti-semitas lá do bairro, era líder da turma, um aluno de quadro
de honra, e também um dos primeiros na escola hebraica.
Foi
para Harvard e ficou memorável. Conheceu lá gente importante para as escolhas
de vida que viria a fazer, o compositor Aaron Copland e o maestro grego Dmitri
Mitropoulos. E em Harvard continuava brilhante e pouco disciplinado.
O
compositor americano Walter Piston, que ensinava composição em Harvard,
considerou-o um instintivo. Chegava por intuição a matérias que aos mais
custavam horas de estudo. Mas também disse que era um rapaz sempre pronto a
exibir-se onde quer que fosse e no que quer que fosse.
O
dramaturgo Tennessee Williams conheceu-o. E prestou depoimento: “é um tipo
atraente, mas incrivelmente egocentrista; quando não é ele o centro da
conversa, senta-se a um canto e finge que está a dormir.”
Outros
o diriam o homem mais afável, mais doce e generoso que tinham conhecido. Isso.
As duas coisas. Narcísico e egocentrista; afável, doce e generoso. Os dois
estados na mesma pessoa.
São
as interpretações dos outros que escrevem a crónica de cada um de nós. Não é
preciso ser Bernstein. A vida interior de cada um de nós, pessoas comuns, é
infinitamente mais complexa e diversificada do que os outros contam. Os outros
simplificam-nos, reduzem-nos. É o papel deles na nossa vida. E nós fazemos o
mesmo papel na vida dos outros. E porque, volto a dizer, em cada um de nós pode
haver dois aprisionados no mesmo corpo, que era o que Bernstein dizia de
Mahler. E que se aplicava a ele mesmo com propriedade. O bom e/ou mau rapaz
judeu. Duas pulsões antagónicas no mesmo tempo de vida da mesma pessoa.
Mas
como eu ia a dizer, em Harvard é-lhe dado o encargo de assistente do chefe do
coro da universidade. Não aquece o lugar. Chega sempre tarde aos ensaios.
Tempos
depois, a secção de cinema da universidade, a Harvard Film Society, espécie de
cineclube, escolhe-o para acompanhador ao piano dos clássicos do cinema mudo.
Ia vendo o filme e ia improvisando ao piano. Passou a ser a estrela das
sessões. Os cartazes anunciavam O COURAÇADO POTEMKIN – COM LEONARD BERNSTEIN AO
PIANO.
Em
política, é muito cedo que se declara marxista, uma elite de Harvard nos anos
30, e com marxistas mais militantes acompanhava muito por essa época.
E
como é que o Sr. Samuel Bernstein podia saber que o filho, etc.,etc.? Pois,
como podia saber se o filho viria a ser maestro, ou compositor, ou estrela de
televisão, ou conferencista, ou professor, ou pianista. Como é que ele podia
saber se nem o próprio filho sabia? Como é que o Sr. Bernstein, assoberbado nos
seus secadores, unguentos e loções para cabeleireiro, podia desconfiar da
inquietante multipersonalidade do seu filho, que além daquela coisa da música
também viria a escrever livros, a criar programas de televisão, a fazer
conferências em universidades, ele, Lenny, que podia estar a ganhar 100 dólares
por semana nos cremes e nos rolos para o cabelo?
Televisão.
Ainda há quem se lembre dele dos Concertos
Para Jovens, transmitidos pela RTP nos anos 60 e 70. “Percebi então o meu
instinto didático, rabínico, herdado de meu pai e dos mestres que me ensinaram
a verbalizar, a ensinar”.
Multipersonalidade,
sim, sim, e magnetismo, e charme, e electricidade, e agressividade. E mais a
musicalidade inata que dispensou uma educação musical académica e formal. O Sr.
Samuel Bernstein nada sabia das virtualidades da ambiguidade.
E
vai daí, o ainda pouco famoso Leonard Bernstein opta como principal ganha-pão
pela actividade que lhe ia melhor à multiplicidade, ao charme, ao magnetismo -
ou até, se quisermos, à tal ambiguidade: chefe de orquestra; intérprete de
criadores. Sem descurar os tentames de composição, canções e cançonetas, e
sempre com o recurso do piano como segunda vida profissional.
Vamos
a ver uma coisa: para Bernstein compor era ficar horas esquecidas isolado num
gabinete a rabiscar uma pauta e a esperar pela posteridade, sem reconhecimento
imediato e sem aplausos pelo trabalho. Não havia paciência para tanto. Dirigir
orquestras assentava lindamente ao lado exibicionista do ainda pouco famoso
Leonard Bernstein, entre ovações, pedidos de autógrafos, adulação, exibição,
mitificação… e cachets substanciais…
enfim… contanto que nessa função lograsse atingir um patamar excelentíssimo. Na
regência ser-lhe-ia mais fácil chegar a ser o famoso Leonard Bernstein e ser, e
ter, e ganhar o que, por então, nenhum compositor clássico americano que não se
chamasse George Gershwin poderia sonhar.
E
por falar em Gershwin… falamos de Copland, Aaron Copland, grande compositor
americano. “Nunca me ocorreu estudar composição a sério. Quando compunha alguma
coisa mostrava-a a Copland. Era ele o meu guia. E era o máximo de estudos de
composição que o meu temperamento podia admitir.” Mas Gershwin era o primeiro
apelo inspirativo na queda dele para a composição. Pensava em Gershwin, mas
seguia Copland. Copland apresentava vantagens robustas sobre Gershwin.
Primeiro, Copland, ao contrário de Gershwin, estava vivo e de saúde. Segundo,
Copland tinha, como ele, antecedentes russo-judaicos.Terceiro, Copland era um
citadino de Brooklyn - como ele gostaria de ter sido. Quarto, Copland era de
esquerda, como ele. E quinto, Copland era homossexual… como ele.
E
como Copland e Mitropoulos lhe disseram que a regência é que lhe ficava a
matar, foi-se matricular num curso de direcção de orquestra. Já não em Boston.
Em Filadélfia, no reputado Curtis Institute. E quem apanha como mestre da
cadeira é o celebrado, antipático e austero húngaro Fritz Reiner. E bem queria ele
ser um maestro ao estilo da sensualidade máscula e ambivalente de Mitropoulos,
mas nunca chega a estudar com Mitropoulos. E o mal encarado Fritz Reiner olha
para ele e imediatamente o classifica como um garoto judeu petulante e atrevido
que gosta de tratar os mestres pelo primeiro nome, olá Fritz chegue aqui… e
Reiner, que nada tinha de másculas ambivalências sensuais, desorientava-o.
E
por isso, depressa voltou para Boston, para a escola de Tanglewood, dirigida
por outra celebridade da regência, Serguei Kussevitzki – russo naturalizado;
judeu tornado católico; bem casado com mulher rica e nos antípodas de alguma
sensualidade ambivalente. Era ele o patriarca vitalício da Sinfónica de Boston.
E é dele que Bernstein vem a ser o discípulo favorito, e com francas
possibilidades de um dia lhe suceder à frente da Sinfónica de Boston. Para
isso, Kussevitzki teria que o transformar o jovem e irrequieto Lenny num
maestro sério, compenetrado, à maneira europeia e acabar-lhe com aquela
tendência inconveniente para o jazz –
não falando já de outras tendências e de se tratar de um jovem judeu nada
inclinado a uma conversão ao cristianismo.
E
por aqui o jovem Lenny começa a ganhar alguma fama. E agora faço entrar nesta
minha cena outro nome de maestro famoso daquela época, Arthur Rodzinski,
aclamado chefe das orquestras de Los Angeles e de Cleveland, e a poucos dias de
tomar posse do cargo de maestro director titular da Filarmónica de Nova York.
O
jovem esperançoso Lenny ao bater à porta da casa do maestro Rodzinski não sei
se suspeitava estar a bater à primeira porta da fama. Pode ser que não. Até aí
não tinha ganho com a música nada que se visse, e antes de mais procurava um
emprego.
Rodzinski
era um tipo grandalhão e crente que pertencia ao Movimento do Rearmamento
Moral, uma comunidade religiosa que praticava intensamente a oração, em ordem a
uma mais perfeita comunhão com Deus. Rodzinski precisava de levar com ele para
a Filarmónica de Nova York um assistente, e nessa intenção elevara fervorosas
preces. Segundo comunicou a Bernstein, chegara a falar mesmo com Deus. “Sabe, Bernstein,
recapitulei mentalmente todos os assistentes que conheço, e perguntei
directamente a Deus quem deveria contratar. E Deus disse-me:”contrata
Bernstein”. Bernstein ouviu aquilo e replicou de pronto: “ah sim, claro”.
Mais
tarde dirá que ficou meio interdito com a conversa. Sabia ter boas
recomendações de Kussevitzki e Copland, mas de Deus… era obra.
Convirá
dizer também que os patrocinadores da Filarmónica de Nova York não deram pulos
de contentes com a escolha de Rodzinski. Torceram o nariz. Demasiado jovem e
inexperiente, o rapaz, eclético por demais (ou até musicalmente promíscuo…
aquela mania do jazz e das cançonetas
da Broadway), judeu, de erráticos costumes sexuais, ao que se sabia. Mas
Rodzinski fez-lhes frente. Não queria um músico europeu idoso. Queria aquele
jovem americano a rebentar de ambição. E levou a dele avante. (Nem sabia no que
se estava a meter.) E o jovem quase famoso Leonard Bernstein fica a viver num
apartamento do próprio edifício do Carnegie Hall e a ganhar 125 dólares por
semana.
A
nomeação de Bernstein como simples assistente da Filarmónica de Nova York fez
logo sensação no meio musical americano. Era ele o primeiro americano na
função, ou seja, o primeiro americano em posição de algum dia poder dirigir uma
orquestra sinfónica. Estamos em 1943.
E
o melhor estava para vir. E veio. Num domingo. 14 de Novembro de 1943. O
maestro titular da orquestra, Rodzinski, está de folga no seu rancho, longe de
Nova York, e recebe um telefonema. Ele que pusesse os pés a caminho de Carnegie
Hall. O maestro alemão convidado para reger o concerto da Filarmónica desse dia,
o lendário Bruno Walter, caíra à cama com 40 de febre. Ele, Rodzinski, que se
despachasse. Não, não podia. Um forte nevão dificultava muito a rodovia entre
Boston e Nova York. “Mas então porque é que se contratou esse Bernstein?”,
pergunta Rodzinski pelo telefone. “Um assistente serve para essas situações.
Usem-no. É a oportunidade dele.” Iria arrepender-se amargamente destas
palavras.
E
se o programa para esse domingo no Carnegie Hall era complicado… abertura Manfredo, de Schumann, D. Quixote, de Strauss, abertura de Mestres Cantores, de Wagner…
Quando,
em Nova York, Bernstein atende o telefone nessa manhã tinha acabado de se
deitar com uma ressaca monstra depois de uma noitada de copos a festejar
qualquer coisa com os amigos. “O que foi?” “Prepare-se para substituir o
maestro Bruno Walter às 3 horas”. “O quê? Hoje? Eu? Às 3 horas? Sem ensaios?”
“Isso, sem ensaios. O maestro está no hotel enrolado em cobertores com um
febrão, mas pode atendê-lo por uma hora, para darem uma vista de olhos pelas partituras.
De maneira que você vai ver o maestro, e faltando um quarto para as três
apresenta-se no Carnegie Hall, faz-se uma comunicação ao público, você avança,
e começa-se o concerto.”
E
assim foi. Bernstein veste-se à pressa, corre ao hotel. Bem entendido que Bruno
Walter já tinha dirigido aquele programa na quinta, na sexta e no sábado. A
orquestra conhecia bem o repertório, mas só o tinha tocado com Bruno Walter. E
lá passaram os olhos pelas partituras, Bernstein de ressaca, de volta dos sais
de frutos, dirá que pouco retivera das instruções de Walter…
E
quando faltava um quarto para as três, Bernstein lá estava caído nos bastidores
do Carnegie Hall, diz ele que a tremer, e a ouvir o secretário da orquestra
anunciar ao público que nessa tarde não teria o célebre maestro Bruno Walter a
dirigir o concerto, e que em seu lugar estaria um jovem maestro americano e
formado na América chamado Leonard Bernstein. Na plateia houve quem se
levantasse e se fosse embora. O jovem Bernstein entrou, agradeceu as primeiras
palmas, levantou a batuta… e diz que não se lembra de mais nada. Só da ovação e
dos bravos no fim do concerto. A fama, pode dizer-se que mundial, chegaria no
dia seguinte.
O
que acabo de dizer aconteceu assim… mas não terá acontecido bem assim. Porque,
é claro, só quem não viveu de perto estas coisas acredita piamente em
semelhantes mitos. E para criar o mito de si próprio não faltava competência a
Bernstein.
E
na manhã seguinte, a fama mundial. Ao lado das mais palpitantes noticias que
chegavam das frentes de guerra, a primeira página do New York Times contava
tim-tim por tim-tim e com fotografias toda a história daquele domingo de
Novembro de 1943 no Carnegie Hall.
O
Boston Post também noticiou o caso e entrevistou o Sr. Samuel Bernstein. “O meu
filho foi a minha contribuição para uma América que tudo fez por mim.” E mais
disse: que investira 12.000 dólares na educação musical do filho, um sacrifício
que valera bem a pena.
Ao
ler, estupefacto, a entrevista do pai, e dando ele mesmo uma entrevista, o já
famoso de um dia para o outro Leonard Bernstein repõe a verdade (a dele, pelo
menos) e afirma que o pai não apostara nem um tostão na carreira musical dele.
Quando lhe chega às mãos um recorte com essa entrevista do filho, o Sr. Samuel
Bernstein arranja um herpes e uma úlcera no estômago.
Está
visto que os boatos e as línguas viperinas não tardaram. Bernstein, apesar da
ainda curtíssima carreira, tinha passado a perna a alguma gente, e o principal
dos boatos consistia em fazer correr que o pai Bernstein untara as mãos ao
grande Bruno Walter para ele se fingir doente e criar a oportunidade para o
filho.
Sim,
mas o titular da Filarmónica, Rodzinski (o tal que a conselho de Deus tinha
contratado Bernstein), depois daquele dia 14 de Novembro de 1943, pode ter
reconsiderado as suas convicções religiosas ao perceber que Deus também podia
ter os seus dias e que naquele dia lhe tinha dado um mau conselho. E porque
começava a sentir dificuldades em falar com um seu assistente repentinamente
célebre e indisponível para o atender.
Dias
depois, precisou dele para um ensaio e não o teve, não estava, tinha ido para
casa indisposto de saúde. Rodzinski sai então do Carnegie Hall, passa as mãos
pelo cabelo, nota que está com uma grande trunfa e vai ao barbeiro. E quem é que
ele encontra, sorridente, refastelado na cadeira do barbeiro a cortar o cabelo
e a arranjar as unhas? O seu doentíssimo assistente aconselhado por Deus, esse
tipo que ele viria a classificar como petulante, impertinente e agressivo.
Para
Rodzinski era o primeiro ano como titular da Filarmónica, mas quem tinha
direito as primeiras páginas dos jornais não era ele, era o seu jovem e até
então desconhecido assistente. E o relacionamento entre ambos torna-se um
calvário.
Bernstein
começa a ser muito solicitado por várias orquestras americanas como regente
convidado. Os filamentos que lhe regiam o destino pareciam bem oleados. O
intendente da orquestra queixa-se. O ambiente em Carnegie Hall estava irrespirável
e entre o assistente e o maestro principal reinava um clima de homicídio.
Rodzinski chega a encostar Bernstein à parede e a apertar-lhe o pescoço.
E
em Fevereiro do ano seguinte – três dias depois de eu ter nascido, facto que
não sei se teve alguma influência nestes casos – o New York Times comunica à
nação musical americana que Leonard Bernstein deixava de ser assistente da
Filarmónica de Nova York, e que na temporada seguinte se apresentaria à frente
da orquestra na qualidade de maestro convidado – e a um nível de maestros
convidados que davam pelos nomes de Pierre Monteux, George Szell, Fritz Reiner…
e Stravinski.
Chegava
ao patamar que o pai profetizara que ele nunca chegaria. Como compensação
narcísico-emocional, quanto mais não fosse, não era mau. E não faltou muito
para Rodzinski ser demitido e ele ser nomeado titular em parceria com o seu
antes muito admirado e sexualmente ambivalente Dmitri Mitropoulos. E como os
filamentos que lhe governavam o destino continuavam bem lubrificados, chega o
dia em que o próprio Mitropoulos é demitido e o já famoso Leonard Bernstein
salta finalmente para a condição de maestro titular absoluto da Filarmónica de
Nova York. Ficará por lá onze anos.
Mas
talvez seja o momento de passarmos da intriga picante e da petite histoire a coisas mais artísticas. O maestro Mitropoulos é
demitido da Filarmónica de Nova York e Bernstein é nomeado. E tal pode não ter
acontecido exclusivamente por obra dos lobbies
que Bernstein possa ter movido. Terão sido ponderadas razões de ordem estética
– e, indirectamente, mesmo financeira.
No
mundo musical americano da época defrontavam-se, por assim dizer, duas
estéticas, ou duas tendências, ou duas escolas. A vanguardista, a da música
atonal, serial, dodecafónica, seguidora da revolução da Segunda Escola de
Viena, com Schönberg à cabeça; e a da música mais convencionalmente baseada na
tonalidade - aquela de que todos nós gostamos. Cada uma dessas escolas tinha os
seus indefectíveis entre críticos, maestros e compositores que se confrontavam
com certa aspereza intelectual. Nos seus programas de concerto na Filarmónica, Mitropoulos
puxava mais para a escola vanguardista, enquanto Bernstein se ficava por um
neo-classissismo respeitador da normal tonalidade, com os limites do
vanguardismo balizados em Copland e Stravinski. Isto assim dito muito de raspão,
já se vê.
As
escolhas programáticas de Mitropoulos resultavam pouco condizentes com os
gostos convencionais do público em geral, e bastante irritantes para os
patrocinadores da orquestra, o que viria a fazer dele um maestro impopular, que
tirava público dos concertos e se tornava mesmo antipático aos músicos.
Bernstein, sem forçar por demais as fronteiras da modernidade musical, ficava
bem visto por todos, músicos, público e patrocinadores. Não terá sido só por
isto, mas pronto, chegou o dia em que a opção de quem mandava apareceu clara
como água, o nosso homem é Bernstein, e boa noite Sr. Mitropoulos.
E
não se pense que Bernstein esteve isento de brutais críticas naqueles primeiros
tempos à frente da Filarmónica de Nova York. A reputação dele nos meios mais
puristas e eruditos era a de um músico bonito, vulgar, extravagante,
politicamente de esquerda – apoiante das causas soviéticas, diga-se de passagem
– judeu, homossexual…
“A
cada nova temporada, a performance pessoal do Sr. Bernstein torna-se mais
pretensiosa, e a musical menos convincente”. “Parece um chefe de banda italiano
dos antigos, a fazer esvoaçar a cabeleira, na contorção do corpo e nos esgares
a simular estados emocionais exagerados”. “O Sr. Bernstein fez um belo trabalho
no Concerto de Tchaikovski, atirando para segundo plano o Sr. Sviatoslav Richter,
fazendo tanto barulho com os pés no pódio quanto o Sr. Richter no piano.”
“Perto do final do Concerto de Liszt, o Sr. Bernstein subiu no ar a la Nijinski e pairou por uns bons 15
segundos”.
Eram
estas as características agógicas do Bernstein maestro. E foram-no até ao fim
da vida. A versão mais bondosa rezava que ele não fazia mais do que tornar
visível para o público a expressão da música que dirigia – houve muita
celebridade da batuta a não concordar, por achar que a música se exprimia por
si. Mas a ideia era mesmo essa, espectacularizar os sons, a música que no
momento regia. Intenso. Teatral. Emotivo. Sensual. Excessivo. E mesmo assim com
uma clareza de batuta irrepreensível. De gesto preciso e eminentemente rítmico.
Dir-se-ia o maestro perfeito. O famoso Leonard Bernstein.
A
uma pergunta sobre o aspecto mais doloroso da carreira, Bernstein não hesita em
responder: os críticos de Nova York.
“Certos
jornalistas têm de mim a ideia de um showman
barulhento da Broadway. Alguma coisa pode haver por detrás dessa imagem.
Talvez eu fale demais e diga coisas erradas no momento errado.” E devia ser
mesmo isso. Diz quem o conheceu bem que falava pelos cotovelos a propósito de
tudo.
E
em 1951 casou-se na sinagoga que frequentava na infância. As mais altas
responsabilidades públicas numa América puritana obrigavam-no a andar na linha.
A noiva chamava-se Felicia Montealegre, era actriz, de ascendência chilena,
católica tradicional, e para casar com Bernstein teve que se converter ao
judaísmo.
Aos
olhos dos mecenas, depois de casado, o enfant
terrible assumia o estatuto de homem respeitável, de homem de família, integrado,
agora sim, em regra para ser aceite como líder de uma grande instituição
americana, e nessa condição obrigado a recalcar os mais prementes – e
heterodoxos - impulsos sexuais. Portou-se lindamente por muitos anos. Nunca
traiu a mulher… com outras mulheres.
Temos
estado a falar das primeiras armas de Bernstein como maestro, intérprete de
outros criadores. Falta alguma coisa sobre o Bernstein compositor, criador.
Não
se podia afirmar que como compositor fosse falho de talento. Nunca conseguiu
foi um grande sucesso nas composições a que chamaremos de música séria. As
grandes orquestras não lhe programavam as obras. Fosse por isso, levou grande
parte da vida a sonhar-se imortalizado por uma grande sinfonia, uma grande
ópera. Nunca conseguiu. Quando regia e se sentia em evidência ficava eufórico e
só pensava em ver-se livre de compromissos de regência por uns tempos para se
isolar e compor. E quando por fim se isolava e tentava compor ficava deprimido
e só pensava nos aplausos
.
Claro
que, quando diz que os jornalistas o tinham como um showman barulhento da Broadway, era por ter trabalhado alguma
coisa para a Broadway. E nesse campo com sucesso. Em 1944. Um bailado, Fancy Free, e um musical, On the Town – que deu um filme com Gene
Kelly e Frank Sinatra.
Mas
em 1942 – um ano antes, portanto, da chegada à Filarmónica de Nova York como
maestro – já havia completado a primeira obra de grande porte para orquestra
sinfónica e soprano. Uma sinfonia a partir do Velho Testamento, que intitulou Jeremiah.
E
também, nesse capítulo, com respeito a críticas, estamos conversados. A obra
tinha qualidades – disseram -, a instrumentação estava bem. Só lhe faltava
aquilo que tão denodadamente perseguiria, desde sempre e para sempre:
originalidade. E já agora, também, coerência contrapontística, ou lógica
harmónica, ou distinção melódica – isto segundo o crítico, e também compositor,
Virgil Thomson.
Da
outra sinfonia chamada The Age of Axiety
foi dito que o final era uma imitação de
Morte e Transfiguração, de Richard Strauss; outros dizendo que era uma
evocação barata e burguesa do paraíso; e outros ainda classificando-a como o
triunfo da superficialidade. Isto de críticos, meus amigos…
A
mais tocada sinfonia dele chamou-se Kaddish.
Um canto que era para ser de louvor ao Deus de Israel, e tachada de blasfema
pela ortodoxia judaica – como mais tarde a Missa católica o seria pelas
autoridades clericais. Kaddish é uma
peça com longas partes faladas em que ele trata Deus como seu igual, alguém que
deve ser acarinhado pelos seus erros. “Será filosofia, será teatro. Pode até
ser música. Mas não é de certeza Kaddish”
– escreveu um crítico israelita.
Boas
críticas teve-as ele em Viena. Sempre. Sem desfalecimentos.
Quando
dirigiu Falstaff na Ópera, a crítica
exultou: à frente da orquestra já não estava um ditador – piada óbvia para
Karajan. Cada frase saía espontânea, como que improvisada. Não, nunca ali se
tinha ouvido um Falstaff daquela
categoria desde os distantes tempos de Toscanini.
Estava
à vista, e era ponto assente, a identificação do judeu Bernstein com a
anti-semita Viena. E por ser assim, numa entrevista, ele até pôs a correr –
sabe-se lá com que verdade – que desde os primeiros estudos de piano, em
Boston, e somente por puro instinto, ao tocar uma valsa já retardava o segundo
tempo do compasso ternário, à boa maneira vienense. E os vienenses acreditaram.
Uma
das apoteoses da ambiguidade em relação à cidade emblema do anti-semitismo foi
quando dirigiu a 2ª Sinfonia de Mahler e doou os honorários a Israel. Recebeu nessa
noite flores e mais flores. Comentário de um violinista da orquestra: “hoje dão
flores a Bernstein; há 25 anos tinham-lhe matado metade da família.”
E
não sei se já falei nisto, mas houve quem dissesse, e parece que com verdade,
que o nosso homem, enquanto compositor, nunca engoliu com facilidade ficar com
o nome nos panteões da fama só por ter escrito West Side Story. E ele defendia-se, alegando que a Flauta Mágica também fora escrita por
Mozart para o teatro popular do seu tempo.
Em
1956, salpica-se um pouco com as consequências da militância esquerdista. A
sub-comissão do Congresso aponta-lhe o dedo e declara-o culpado de actividades
anti-americanas e um risco para a segurança nacional. Tê-lo-ão associado a
Jerome Robbins, o famoso coreógrafo da Broadway com quem à data estava a
trabalhar na produção de West Side Story.
Robbins, como Elia Kazan, em tempos membro do Partido Comunista Americano,
denunciou antigos camaradas ao senador MacCarthy. Mas, inexplicavelmente para
alguns dos mais próximos, Bernstein nunca foi incomodado.
No
que o macarthismo influiu na vida artística de Bernstein foi na criação de Candide. Em parceria com uma personalidade
literária, Lillian Helmann, essa sim, fortemente implicada nas acusações do
senador MacCarthy.
“Comentário
político no rescaldo do macarthismo”. Foi como os autores classificaram a obra, Candide – meio ópera, meio opereta,
meio musical da Broadway. As audiências na Comissão do Congresso tinham servido
a inspiração artística. E assim porque se entendeu que as questões levantadas
pela sátira de Voltaire estavam ainda plenas de actualidade na América dos anos
50 – as inquisições sobre a liberdade individual, o falso moralismo, e
sobretudo o optimismo.
E
quando, por fim, em 1949, se sente preparado para virar de vez as costas à
Broadway e cumprir os desejos do seu mentor Kussevitzki, tornando-se um
director de orquestra sério, ao modelo europeu, eis que, uma noite, recebe um
telefonema de alguém que tem uma ideia. Uma ideia que o faz mudar de ideias e
reincidir no mundo popular da Broadway. O que é que tu achas de uma versão
moderna de Romeu e Julieta ambientada
nos bairros mais pobres de Nova York? Anh? Que tal?
Todos
conhecemos essa ideia do West Side Story
que todos devemos ter visto no cinema nos idos de 60. Mas foi uma ideia que
começou no palco, que passou por diversas vicissitudes, artísticas,
financeiras, promocionais e levou anos a realizar-se.
Curiosidade
ilustrativa de uma dessas vicissitudes foi, numa primeira abordagem, a
relutância da Columbia Records em gravar a peça em disco. Porque acabava mal.
Porque havia duas mortes em cena logo no 2º acto. Porque não era o tipo de
espectáculo que o público da Broadway apreciava. E porque, no plano musical, os
trechos eram difíceis, demasiado elaborados, em particular devido aos trítonos:
demasiados trítonos numa partitura feita a pensar na Broadway.
E
que diacho será isso dos trítonos? – e aqui falo para os não iniciados nos
meandros da escrita musical. A questão dos trítonos é, aliás, hoje, bizantina,
e não interessa a ninguém a não ser aos profissionais. Mas por volta do século
XII podia valer o fogo da Inquisição.
Trítono
é, tecnicamente, o intervalo de 4ª aumentada; o intervalo entre a altura de
duas notas comportando três tons inteiros. O caso mais imediatamente óbvio em West Side Story é a canção Maria. Que para ser aceitável pela
Broadway e pela Columbia Records dos anos 50 começaria pelas notas Do natural e
Fa natural, mas que Bernstein entendeu escrever Do natural e Fa sustenido (ou
Sol bemol), quer dizer: meio tom mais acima. Se de Do natural para Fa natural o
intervalo é de 4ª, de Do natural para Fa sustenido o intervalo leva mais meio
tom. Daí a designação de aumentada. E isto, aos ouvidos medievais, soava
dissonante. Criava tensão e desconforto no ouvido educado. Era coisa do diabo. Diabolus in musica, chamavam-lhe os
censores da Igreja. E porque a perfeição de Deus se exprimia em tons inteiros e
harmónicos, nunca em dissonâncias. Proibido. E também porque os meios tons
deixavam no ar demasiados perfumes do Islão. Proibido.
O
estranho para mim é que em 1956, ou 57, a Columbia Records ainda se preocupasse
com tais bizantinas minudências. E não sei se deliberadamente, como
reminiscência de um desafio aos poderes instituídos e provocação histórica aos
dogmas da Igreja, o Bernstein-iconoclasta-provocador-homem-de-esquerda usou
esse intervalo num número destinado a um público popular. Como disse, e mais
concretamente, na canção Maria.
“E como é que eu podia saber que o meu filho
viria a ser o famoso Leonard Bernstein?”
Uma
vez, em Washington, actuava o já famosíssimo Leonard Bernstein como mestre de
cerimónias num evento oficial - e como de costume chamava sobre ele as atenções
– e é quando o presidente Kennedy lhe diz ao ouvido: “você deve ser o único
homem que conheço contra quem eu nunca disputaria uma eleição”.
Pois,
em toda a ambiguidade e contradição, o Bernstein-homem-de-esquerda, rebelde,
iconoclasta, provocador, jazzístico, inovador, acabou absorvido como figura
pelas mais altas e reacionárias instituições americanas. Primeiro americano
nascido e formado na América e director artístico de uma das mais importantes
orquestras do país; primeiro maestro e compositor genuinamente americano a
granjear fama no estrangeiro… sim, claro, o poder cultural e o dinheiro fizeram
dele, inevitavelmente, uma personalidade também política a considerar. Uma
personalidade política doravante afastada das ditas causas soviéticas dos anos
30 e 40, bem entendido, ainda que não abjurando de algumas convicções e
mantendo certa reserva esquerdizante – está-se mesmo a ver: esquerda-caviar;
ou, como lhe chamaram, radical-chique.
Ambiguidade,
contradição, rebeldia, provocação…
Com
o republicano Eisenhower passou a ser muito lá de casa. Uma casa branca. Era
muito convidado – com um senão para ele: não era permitido fumar na sala de
jantar.
Mas
na leva política seguinte chegou Kennedy. Um filho da terra como ele, um
bostoniano como ele; casado, como ele, com uma mulher elegante e culta;
interessado na causa dos pobres e segregados, como ele.
Mas
chega o inverno de 61 e Kennedy inicia testes nucleares em resposta à escalada
soviética, e o famoso Leonard Bernstein, juntamente com outras celebridades,
renega as fidelidades pessoais e está na primeira linha das manifestações de
protesto em Washington. Kennedy fica frio com ele. Mas nem isso impediu o
famoso Leonard Bernstein de ser unha com carne com Jacqueline e de apoiar, mais
tarde, a candidatura à presidência do malogrado irmão, Robert.
Como
digo, e a despeito da ambiguidade, da contradição e da provocação em que se
movia maravilhosamente, nunca, no foro de um humanismo íntimo, abjurou de
algumas convicções e do apoio a causas políticas e sociais modernamente chamadas
de fracturantes. E daí que em finais dos anos 60, J. Edgar Hoover e o seu FBI já
lhe tivessem feito a folha, e uma folha bem jeitosa com respeito a actividades
subversivas.
Actividades
subversivas? Sim. Apoio à causa radical (e violenta) dos Panteras Negras. Apoio
público, notório. E a seguir… ambiguidade e contradição. 1969. Dois músicos
negros apresentam queixa de Bernstein à Comissão dos Direitos Humanos. Motivo?
Discriminação de músicos negros na Filarmónica de Nova York. Um folhetim que
não temos tempo para contar como deve ser.
Ambiguidade
e contradição. Discriminação de músicos negros na Filarmónica, como? Como, se
Bernstein assim que tomou conta da direcção artística da orquestra até convidou
um violinista negro? E quando a queixa foi apresentada esse violinista ainda
estava na orquestra, embora… embora sujeito a constantes audições.
O
caso de discriminação na Filarmónica de Nova York até nem era nada de mais. O
número de instrumentistas negros a tocar nas grandes orquestras sinfónicas
americanas era ínfimo. Assim como era a mais pura das verdades que qualquer
chefe de orquestra branco e politicamente liberal se via apontado como
subversivo, vermelho e comunista se aceitasse negros na sua orquestra. Era a
democracia americana naquela época de guerras frigidíssimas. E como nenhum
maestro branco e liberal queria arruinar a carreira pelo infamante rótulo de
comunista – rótulo que já vinha dos tempos do senador MacCarthy – era difícil
haver uma quota razoável de negros nas grandes orquestras. Nas grandes e nas
outras, e mesmo nas orquestras ligeiras da Broadway. E então, os queixosos contra
Bernstein perderam a causa. Bernstein cotava-se, segundo as testemunhas do
processo, como um dos mais insignes humanistas do país.
Ambiguidade
e contradição, pois. Ou evolução natural das circunstâncias pessoais e das
conjunturas colectivas. Se nas décadas de 30 e 40 Bernstein se envolvera com
tudo o que cheirasse a contestação politica de esquerda e de provocação ao status quo, em 1958, chegado a director
artístico da Filarmónica de Nova York, passava a assumir uma posição destacada
nesse mesmo status quo, numa
instituição elitista e conservadora, financiada pelo grande capital. E foram
dez ou onze anos de silêncio quanto a posições ideológicas avançadas. O
insubmisso e bom rapaz judeu submetia-se. A bem da carreira.
Com
chegada dos Seventies, o radical passou a chique e o esquerdista passou ao
caviar. Mas envolvia-se com os Panteras Negras. E até organizava em propriedade
sua e por sua conta recepções e luxuosas festas de angariação de fundos para
acorrer às despesas de tribunal do grupo dos Panteras Negras – que, não esquecer,
apelavam descaradamente à violência.
Ambiguidade,
contradição, insisto, provocação, ou, enfim, humanismo… e, por azar, esse apoio
de Bernstein aos subversivos Panteras Negras a acontecer numa conjuntura ideológico-temporal
ingrata. Porque passados os tais anos 30 e 40 especialmente difíceis para as
minorias, quando negros e judeus se sentiam irmanados na desdita, a
circunstância social dos anos 70 noticiava negros e judeus americanos em
severas barricadas opostas e mais inimigos do que amigos.
E
tanto assim que os amigos (e protectores) judeus de Bernstein não acharam piada
ao radicalismo do maestro e não levaram à paciência vê-lo tão militantemente
comprometido com negros. O bom rapaz judeu nem parecia suficientemente judeu,
por um lado. E por outro, os negros, naturalmente, nunca viram esse bom rapaz
judeu como suficientemente negro, ou pró-negro, e do fundo do coração
desprezavam aqueles liberais ricos e brancos que angariavam dinheiro para eles,
e até continuavam a gritar nos comícios “morte ao imperialismo sionista”.
A
Liga de Defesa Judaica, de extrema-direita, fez piquetes à porta dele na Park
Avenue. Para eles, Bernstein era somente um ornamento no mundo judaico que nada
fizera para ajudar os judeus a lutarem pelos seus direitos,
E
então, desconsolado e cercado por todos os lados, para o que é que lhe deu?
Para uma provocação religiosa. Compor uma missa católica. Ou pretensamente
católica, posto que considerada blasfema por algumas personalidades do clero
americano.
Terminado
que estava o longo compromisso com a Filarmónica de Nova York, o já muito
famoso Leonard Bernstein sentia-se de mãos livres para assumir o radicalismo,
tanto o político como o estético. Também o pai já tinha falecido – e enfim, falecido
fartinho de saber que afinal tinha sido pai do famoso Leonard Bernstein. E com
o pai falecido também ele se soltava das ancestralidades hebraicas o bastante
para se permitir incorrer nos amplos espaços do cristianismo. E não faz mais
nada, vá de escrever uma missa. E como blasfemara em Kaddish contra o Deus dos judeus, afrontava Cristo na Missa dita
católica. “Que venha o amor, que venha a lascívia… é tudo tão fácil quando nada
mais importa”, dizia o Celebrante-Narrador, protagonista dessa Missa.
Era
uma encomenda para a inauguração do Kennedy Center, em Washington. 1971.
Produção de luxo, muita gente em cena, um caleidoscópio de estilos, tocado,
cantado e recitado, de Shostakovich e Carl Orff ao rock, passando pelo folk
e pelos blues, a cavalo na onda
comercial hippie ainda em voga, Woodstock,
marchas sobre o Pentágono contra a guerra do Vietnam, erva, álcool e sexo
libérrimo como vias de salvação da alma e do mundo no pensar jovem do tempo.
Que tempos! Que vidas!
Mas
J. Edgar Hoover e o seu FBI estavam a par – e a pau – de tudo o que o famoso enfant terrible da cultura americana
fazia. E também estavam a par do projecto da Missa e do conteúdo pacifista dela
e do desafio a Deus e à autoridade que tal conteúdo poderia representar, quando
o Celebrante-Narrador em cena arrepelava os cabelos, rasgava as vestes e
despedaçava os vasos sagrados. “Uma combinação de superficialidade e pretensão”
– escreveu o implacável crítico do New York Times.
J.
Edgar Hoover já adivinhava que à estreia haveria de comparecer a nata do society e a gente grada da política.
Eventualmente o próprio presidente Nixon. Gente grada que iria aplaudir a obra
do famoso Leonard Bernstein sem ter uma noção exacta do que ela significava
social e politicamente.
Mas
Nixon não foi à Missa. E dois anos depois – ambiguidade, contradição,
provocação – o papa Paulo VI, comemorando o décimo ano de pontificado, convida
o famoso Bernstein para reger no Vaticano. Reger a Missa hippie? Oh, não! Reger o Magnificat,
de Bach. E alguma coisa da lavra do maestro, ainda assim algo provocadora das rígidas
liturgias do lugar, os Chichester Psalms
– cantados em hebraico, como já se disse. A outra condição menos politicamente
correcta era que as obras fossem cantadas por um coro de negros.
Mahler.
O cavalo de batalha de parte substancial da carreira de Bernstein como maestro.
Quando
dirigia uma orquestra, a fantasia pessoal dele era estar no momento da execução
a compor a obra que interpretava. Tudo natural. É assim que funcionam os
grandes intérpretes. Como Mahler, também ele, Bernstein, era um compositor e um
maestro, um criador e um intérprete das criações de outros. Os tais dois homens
aprisionados no mesmo corpo. A tal duplicidade. A tal bipolaridade. A tal
esquizofrenia do artista.
Dirigir
uma orquestra é como fazer sexo de boa qualidade – dizia Bernstein. E também
dizia que não era coisa simples. “Eu não sou um director de orquestra; eu sou
um compositor que dirige.”
E
as afinidades com Mahler foram notórias desde a primeira vez que o dirigiu. A
2ª Sinfonia – também chamada Ressurreição. Em 1947. E sentiu-se bem. E era no
tempo em que procurava identificar-se mais seriamente com a raiz hebraica e lia
com devoção os livros sagrados.
Abandona
a CBS e assina um contrato milionário com a Deutsche Gramophone, incluindo a
garantia de poder gravar tudo o que lhe apeteça. Fica rico. Ou melhor ainda:
fica muito rico.
Pouco
depois da queda do Muro, em finais de 89, dirigiu em Berlim a 9ª de Beethoven,
e guardou em casa para sempre um pedaço desse muro – um “sempre” que haveria de
ser curto.
“Aos
35 anos, os médicos disseram-me que se quisesse continuar a viver não poderia
continuar a dirigir. Um problema. Viver, para mim, era tocar, dirigir e compor.”
Sim,
e também era beber (muito) e fumar (muitíssimo). Felicia, a mulher, morrera entretanto
de cancro no pulmão. Sem deixar de fumar, penitenciava-se: a morte da mulher
não lhe servira de lição. E sentia-lhe profunda e dolorosamente a morte. A culpa.
Como se ele mesmo estivesse às portas da morte assolado por um invencível
sentimento de culpa. Culpado da morte da mulher, convencido de que o cancro se
podia formar e desenvolver na sequência de um grande sofrimento, e que a causa
do sofrimento da mulher era ele.
Aos
70 anos continuava a trabalhar, a compor, a dirigir, a beber, a fumar
desalmadamente. Deixar de dirigir, de compor, de beber, de fumar? Nem pensar em
tal. Isso seria morrer antes do tempo. E não queria morrer como tinha morrido o
seu admirado colega Mitropoulos, no pódio, a dirigir. Queria morrer a compor.
Não
sei se morreu a compor. Parece que em parte – se é que se pode morrer em parte
– começou a morrer mesmo a dirigir – se é que se pode começar a morrer. Um
brutal ataque de tosse a meio de um concerto com a Sinfónica de Boston. 18 de
Agosto de 1990. O concerto interrompeu-se, ele recompôs-se e o concerto
prosseguiu, e ele morreu meses depois, em Outubro. Não sei se nesse momento estava
a compor. E mesmo a compor, estaria (seguramente) a fumar...